Eat Drink Man Woman - I
Alimento, amor e sexo. Dimensões subjetivas da vida
Alimento, amor e sexo. Dimensões subjetivas da vida
O amor através do alimento
Der Himmel über Berlin: Wim Wenders, 1987
Etiquetas: As asas do desejo
As Asas do Desejo II
O Prémio da Universidade de Coimbra foi este ano atribuído, ex-aequo, a dois nomes centrais da nossa cultura e da nossa arte: Almeida Faria e Pedro Costa.
Cheguei a pensar que Senso adormeceria pesadamente algures numa espécie de saco de cama virtual dos blogues, mas os meus alunos do seminário de Cinema e Outras Artes acharam por bem abaná-lo e obrigá-lo a abrir os olhos. Espero que fique bem desperto por longo tempo.
 «Hoichi, the Earless» (62’) constitui o terceiro segmento da obra de Kobayashi (1916-1996), Kwaidan (1964). O filme é uma adaptação de quatro contos de Lafcadio Hearn, «Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things» que por sua vez constitui uma apropriação de contos japoneses, ou seja, de um fragmento da cultura japonesa.
«Hoichi, the Earless» (62’) constitui o terceiro segmento da obra de Kobayashi (1916-1996), Kwaidan (1964). O filme é uma adaptação de quatro contos de Lafcadio Hearn, «Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things» que por sua vez constitui uma apropriação de contos japoneses, ou seja, de um fragmento da cultura japonesa.

Esta introdução não é das melhores, mas não sabia realmente como começar. Já ando há alguns dias, talvez duas semanas para escrever esta introdução, mas não conseguia arranjar uma ideia luminosa que achasse digna de ser introduzida no "reacender" deste blogue. Sem ideias fantásticas resolvi escrever sem pressões...
Como está explicado no canto superior esquerdo da página, este blogue foi criado por alunos de Estudos Artísticos algures em tempos que já lá vão. Ao longo de, não sei bem quanto tempo, tentaram sempre dar dinamismo ao blogue colocando e postando textos sobre cinema, mas após uma explosão de criatividade descrita em palavras sobre a 7ª arte, lá veio o período refractário. Então, passado quase um ano do último post, no âmbito de um seminário do mestrado em Estudos Artísticos intitulado Cinema e Outras Artes, o pioneiro deste blogue Doutor Abílio Hernandez e os seus estimados alunos decidiram, mais uma vez, tentar dinamizá-lo.Sendo assim, deixo o desafio a todos aqueles que gostariam de marcar a sua posição sobre cinema a escrever para este blogue...
Sem nada mais a acrescentar, resta desejar uma boa semana e dizer que não tenham receio de participar porque sem os textos não existe blogue.
Beijinhos
Joana Barbedo
dARQ

O filme Peeping Tom (1960) é relativamente tardio na carreira do seu realizador inglês Michael Powell. Relativamente tardio não tanto pela idade que Powell tinha na altura mas porque, de facto, depois deste filme a sua obra, que durante as décadas anteriores de 40 e 50 fora bastante abundante, torna-se esparsa senão mesmo episódica. A razão do fenómeno estaria associada ao escândalo que o lançamento do filme causou na altura. A crítica achou o filme execrável talvez, podemos pensar, pela escolha do tema.
Como o título sugere, o filme trata o voyeurismo, mas um voyeurismo perverso, sádico. A sua personagem central, Mark (Karlheinz Böhm), é a dum jovem operador de câmara que nos tempos mortos fotografa mulheres nuas para depois vender – até aqui tudo se integra perfeitamente no socius. A situação complica-se quando Mark começa a matar essas mulheres como forma de prazer sexual. Assim, a história do filme gira em torno da perversão do olhar associada à indústria das imagens, ao cinema, e, de forma mais geral, aos mecanismos do olhar. Neste “programa” que o filme propõe, a dada altura parece clara a tentativa de associação e identificação do nosso olhar de espectador com o de Mark, colocando-nos numa posição incómoda mas poderosa. Somos forçados a pensar o confronto ou o reconhecimento da relação entre ver e participar.
É na verdade este lado auto-reflexivo do filme que se mostra mais interessante. Entre outras, existem duas cenas que me chamaram mais a atenção. Passam-se ambas no estúdio de cinema onde Mark trabalha. A primeira refere-se ao momento em que, antes de filmar a morte da actriz substituta, Vivian (Moira Shearer), entre aquele jogo de “quem vê quem, quem” Mark diz «the result must be so perfect that even he would approve». Vivian pensa que ele se refere ao filme (dentro do filme) em que ela colabora, mas ele falava do seu pai – que, como sabemos pelas imagens “documentais”, é na realidade o próprio Michael Powell. Há toda esta quase paródia que me parece muito atraente no filme.
A outra cena, já depois do assassínio de Vivian, passa-se durante um ensaio no mesmo estúdio em que uma actriz assustadiça tem que escolher uma caixa, nessa caixa, sabemos nós e sabe Mark (um exemplo dessa identificação de olhares de que falava no início), está o cadáver de Vivian. O realizador dentro do filme informa que esta deverá ser uma cena cómica. E ela é cómica para nós, para os intervenientes desavisados ela é uma cena de terror.
Nesta cena nós não temos medo e não nos aterrorizamos porque sabemos o que se vai passar. Aguardamos pelo contrário com expectativa o terror no rosto daquela actriz ao se deparar com o corpo de Vivian. E há aqui um duplo, talvez um triplo prazer. Um gozo do conhecimento (=poder), mas também o gozo do suspense que só o cinema nos dá em tais doses. Nós sabemos o que vai acontecer, mas não sabemos como. E ainda um terceiro gozo, um gozo mais intelectual em perceber. Perceber a ironia, o programa por detrás desta cena.
Há, claro, uma questão moral que aqui se levanta (hoje com relativo menor escândalo), e que tem toda a pertinência. A generalidade os espectadores de cinema admite ter prazer com cenas que considere violentas ou criminosas por saber tratar-se apenas de um filme – a inocente Helen (Anna Massey) coloca precisamente essa questão, ela diz a dada altura «é horrível mas é só um filme, não é?». Mas será essa distinção assim tão clara? O espectador é apenas um “Peeping Tom”? Que espécie de cumplicidade se estabelece entre “quem vê” e “o que/quem é visto”?
Eu não me acho absolutamente incapaz de sentir prazer com cenas que considere moralmente reprováveis, abjectas ou vis. Já Santo Agostinho nas suas Confissões, há mais de 1500 anos, discutia este assunto, opondo-se à inclusão de certo tipo de cenas na representação teatral por achar que fomentava esse prazer pelo baixo, pela violência. Hoje esse interesse continua a ser visivelmente explorado desde a forma mais banal (nos jornais televisivos, por exemplo) ou em formas requintadíssimas (vários exemplos na literatura de Sade ou Bataille). Portanto, saber isso de nós, ter essa consciência ajuda-nos, julgo eu, a conhecer melhor os limites e capacidades do humano. E, como se sabe, muitas vezes o conhecimento é perturbador…
Catarina Maia

O Sétimo Selo
Det Sjunde Inseglet
Na minha opinião este filme é como que uma interpretação da vida de Ingmar Bergman. Como pessoa amargurada, dá-nos a perceber através de um filme pessimista e de critica à sociedade, que começa a perder a esperança de uma salvação ou na crença de algo que não vê. Muitas das vezes em oposição ao divino e em atribuição de todo o mal que acontece no mundo terreno, a luz, elemento fundamental neste filme, pelo facto de ser um filme elaborado nos anos
Toda a acção gira à volta de um jogo de xadrez, proporcionando mudanças claras do clima sentido. Sir. Antonios Block, cavaleiro que partira para as cruzadas regressara ao seu país. A acção deste filme começa precisamente aí, com a águia do apocalipse a pairar sobre a praia, aonde jazem o cavaleiro e o seu escudeiro, Jons, que compensa todo o carácter pensativo e reflectivo do seu amo. Jons é prático, forte, é visto como o herói que nunca vemos o cavaleiro ser. Encaro este personagem como um segundo narrador, que ao longo de toda uma cruzada contra a morte, vai relatando o seu percurso através de pequenos eventos, porém recusando a morte como certeza.
O início do filme não é escolhido ao acaso pois reflecte a ligação entre terra e água, presente nas sete trombetas do Apocalipse. É nesta altura que o cavaleiro procura a água para se benzer e rezar, mas após tomar a pose para tal, desiste e instantaneamente aparece a Morte.
Ao longo do filme podemos ver duas histórias entrelaçadas de maneira inteligente, pois a história do cavaleiro e do seu escudeiro é ligada a uma, em paralelo, de uns saltimbancos, Jof, Mia e Mikael. Jof é o único personagem que consegue vislumbrar cenas divinas, ou mesmo a Morte, a quando ela se prepara para fazer cheque-mate ao cavaleiro. Jof é um personagem que representa os tolos, aqueles que ainda são puros e acreditam na salvação e no mundo livre e que apesar de ter uma vida difícil, vive-a sendo feliz assim mesmo, ao lado de Mia (que representa a incredulidade), e apesar de serem opostos, este casal nunca é retratado em separado, é sempre visto como uma família. É muitas vezes visto como José, Maria e o Menino Jesus.
Com o andar da caravana aonde Jof trabalha, a morte depara-se com o grupo, graças ao chefe da companhia de teatro, que em simbologia desse presságio, coloca a máscara junto à caravana e essa máscara não mais será removida de tal posto a não ser após o sacrifício do cavaleiro, perdendo de propósito, ou melhor dando-nos essa ideia, pois ludibriar a morte ninguém consegue e mesmo sendo um jogo de xadrez um jogo de atenção, a Morte sabia exactamente quando e onde deveria fazer cheque.
O final do filme é importante pois existe um retorno da acção à praia, ou seja nota-se um ciclo na história e é ao alvorecer que Mia e Jof alcançam este local. Esta cena faz lembrar um pouco do renascer, é como um começar de novo. E Jof avista a dança da morte, várias vezes retratada ao longo do filme através de pinturas, até nos panos que cobriam a carroça destes saltimbancos.
Antes de se renderem perante a Morte, uma rapariga, personagem de importância questionável até este ponto, que muitos julgariam que se tratava de uma rapariga muda, mas perante a presença da Morte, esta ajoelha-se e diz: “Tudo está consumado”. O Sétimo Selo refere-se ao ressuscitar dos mortos e é um pouco o que a dança da morte representa, todos os que não encontraram arrependimento, ou aceitaram inevitavelmente a morte, tomam parte desta dança macabra.
Após uma análise detalhada desta última dança, podemos identificar que Raval, e a rapariga “muda”, não constam dos personagens que executam esta dança.
Pedro Guilherme Gonçalves de Sá Teixeira Chaves
Aluno de arquitectura: Darq - FCTUC


 Este filme trata claramente o tema da questionação da existência - Deus, Morte -, revelando a busca pelo sentido num mundo caótico do séc. XVIII devastado pela Peste Negra.
Este filme trata claramente o tema da questionação da existência - Deus, Morte -, revelando a busca pelo sentido num mundo caótico do séc. XVIII devastado pela Peste Negra.




Apocalipse é o último dos 66 livros da Bíblia.
Numa visão mais historicista, poderemos fazer a seguinte divisão do livro:


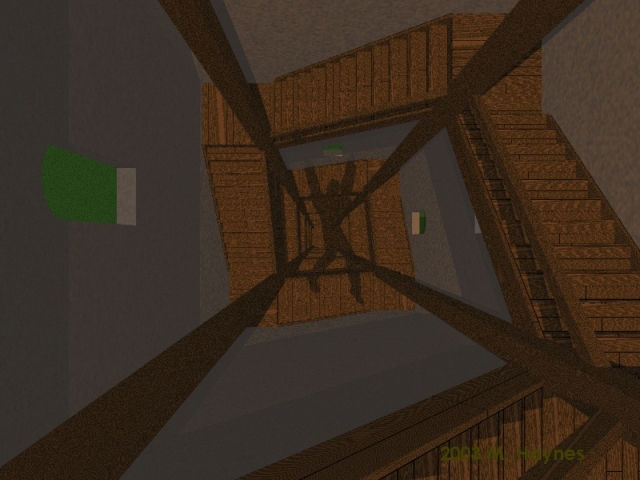
Com o infeliz título português (como é tradição nossa) de “A Mulher que Viveu Duas Vezes”, Vertigo (ou “Vertigem” tão-somente) permanece uma referência insubstituível na intensa produção fílmica de Sir Alfred Hitchcock, em primeira instância no que se refere à sua construção centrípeta e, portanto, intrincada sobre si mesma.
Concebida em 1958 (entre Rear Window [1954] e Psycho [1960]), esta obra pode bem entender-se como monumento erigido à capacidade que o cinema tem, por excelência, de tecer a ilusão; a ilusão do equilíbrio (ou da falta dele) de Scottie (James Stewart), um polícia em convalescença perturbado pela morte de um colega; a ilusão de uma mulher (Kim Novak) que se faz passar por outra; a ilusão da morte; a ilusão do tempo – relativizado no interior de um tronco de sequóia; enfim a ilusão do próprio espectador, que tarda em apossar-se dos elementos mínimos que lhe permitirão construir uma versão coerente da narrativa.
Vertigem desde o primeiro instante, espiralando-se adentro a íris de um olho humano, de mulher. Vertigem na ligação entre mundos, dos vivos e dos mortos, das figuras de carne e osso e das pessoas pintadas numa tela. Vertigem de um vestido verde vivificando-se, ardendo por entre um salão saturado de vermelhos. Vertigem do déjà-vu – repetição da morte e das suas circunstâncias.
No centro da espiral existe o vazio, multiplicado sobre si mesmo. Existe uma gravidade incontornável que puxa a matéria para o centro e a faz girar e cair. E apenas isso. Sem parar. É essa a raiz da vertigem – a incapacidade de discernir um ponto sólido, estático, que sugira o fundo do poço, o fim da queda.
Vertigem é o tormento de um homem, que um outro aproveita obscuramente para proveito próprio. É uma angústia que alastra ao espectador, que só pode lamentar o presente envenenado que é saber um pouco mais que o protagonista e ainda assim ser surpreendido pelo poder de sucção da espiral que, no fim, atrai para o abismo uma mulher que não pára de morrer (ou que pelo menos já “viveu duas vezes”), desta feita com o nom e de Judy Barton…
e de Judy Barton…
No centro da vertigem jaz a morte, que pune quem a desafia. Mas e o que acontece àqueles que, como Scottie, se vêem de súbito na sua periferia, entre a estabilidade e a instabilidade? Será que alguma vez recuperarão na totalidade? Ou a vertigem não é apenas um estádio mas um medo adormecido, pronto a despertar a qualquer momento, como brecha súbita rasgando-se debaixo dos nossos pés? E será esse medo instrumentalizável por mãos alheias, em desfavor do desgraçado que ceder a esta fobia?
Daniel Boto